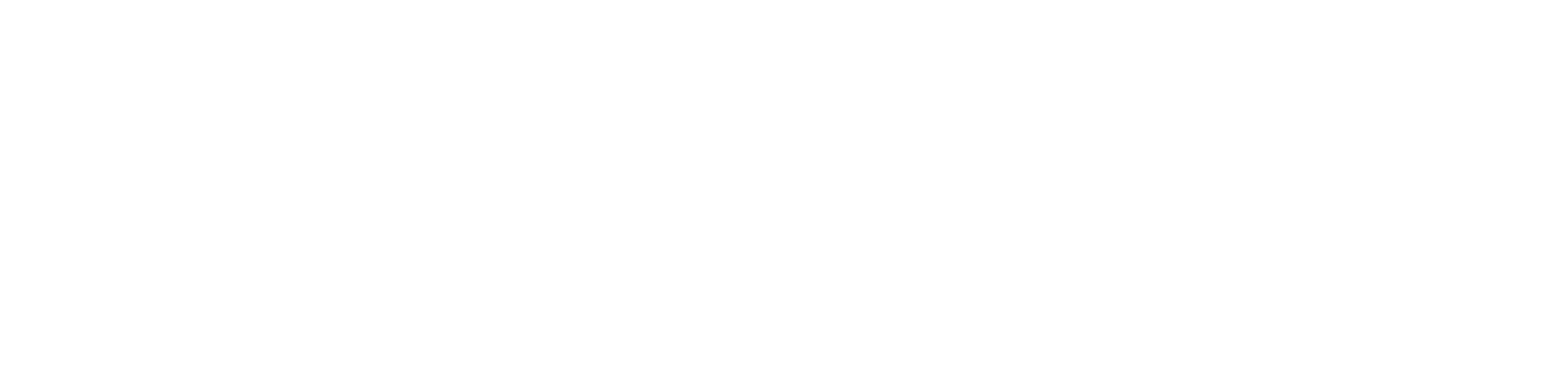Trabalhar com cultura em tempos de uberização:
entre o cansaço, o desmonte e a urgência do coletivo

A individualização do fazer cultural é a ponta do iceberg de uma crise muito mais profunda. E quem trabalha com arte sabe que cultura não se faz sozinha.
Já ouvi muitas vezes que, ao escolher me formar em cultura, eu estava “assinando minha sentença” no mercado de trabalho. Como se cultura fosse sinônimo de hobby, uma atividade informal, precária e sem valor.
Naquela época, esse tipo de comentário parecia exclusivo da nossa área. Hoje, vejo discursos semelhantes atingirem também professoras, educadoras e profissionais das licenciaturas em geral. A desvalorização deixou de ser exceção e virou norma.
Me formei num período ruim, estranho, no pós-golpe e no pré-Bolsonaro. Pra quem é da cultura, esse marco diz muita coisa.
Pra quem não é, explico: foi o início do fim das políticas públicas para o setor. A extinção do Ministério da Cultura e o desmonte das leis de incentivo fecharam as portas para centenas de milhares de trabalhadores da cultura.
E não, não estou falando de “artistas globais”.
Estou falando de quem vive da arte nos bastidores, de quem faz arte no interior, nas periferias, nos coletivos, nas praças, nos palcos improvisados. Quando uma política cultural é destruída, é essa base que sofre primeiro.
A uberização e a pejotização, hoje tão debatidas em outros setores, são realidades antigas pra gente. Na cultura, a informalidade, a invisibilidade e a precarização sempre foram regra. A diferença é que agora piorou.
Com o avanço do neoliberalismo, das mídias sociais, da tecnocracia e do capitalismo, entramos na era da individualização do fazer cultural.
A cultura virou conteúdo digital.
O artista virou influenciador.
A produção virou performance.
E quem não tiver “presença digital” desaparece, mesmo que tenha uma obra potente, uma trajetória consistente, um legado importante.
Só que trabalhar com cultura nunca foi e nunca será um ato solitário.
Não dá pra fazer cultura sozinho.
Cultura é rede, é cadeia, é troca.
É por isso que se chama cadeia produtiva da cultura: há uma série de profissionais em cada etapa, da criação à circulação, da técnica ao pensamento, do cuidado à comunicação.
Somos militantes, lutamos por direitos básicos
A nossa classe luta muito pra conseguir o mínimo: fazer arte e, ao mesmo tempo, garantir a própria sobrevivência.
Na pandemia, isso ficou escancarado.
Com o isolamento, as pessoas sentiram a falta dos nossos trabalhos, dos nossos espaços, da nossa arte. Foi preciso uma crise mundial para que a cultura fosse percebida como essencial.
Mas a pandemia também deixou cicatrizes, desafios, dores. Com o isolamento social, o hábito de consumo cultural mudou. Muita gente que já não frequentava espaços culturais, por falta de grana, costume ou acesso, simplesmente não voltou.
As plataformas digitais tomaram o lugar do encontro presencial. Os streamings, os algoritmos e o cansaço tomaram conta da rotina. E tudo que a gente quer, no fim de semana, é se jogar no sofá, abrir uma cerveja e ficar em silêncio.
Estamos cansados.
Exaustos.
Sugado pelas telas.
Saturado de zooms, lives, comentários, curtidas, estratégias de engajamento.
Sair de casa virou esforço.
(E falo por mim também. Trabalho de casa desde a pandemia. Fiquei dois anos sem pisar na rua, em isolamento total. Desenvolvi ansiedade social. Hoje, sair exige energia que às vezes eu não tenho.)
Ficar em casa parece mais fácil.
Parece.
Mas, depois de cinco anos trabalhando sozinha, pela tela, eu só consigo pensar:
PRECISO IR PRO PRESENCIAL.
Não só pra cuidar da minha saúde mental.
Mas porque cultura não se sustenta no individualismo.
Ela precisa de corpo, de presença, de gente, de território.
De estar junto.